Na manhã desta quarta-feira (30), o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu numa atualização bombástica feita pelo Departamento do Tesouro dos EUA. O motivo? O presidente Donald Trump decidiu aplicar contra ele a Lei Magnitsky, uma ferramenta legal que os americanos costumam usar pra punir gente envolvida em corrupção pesada ou violações sérias de direitos humanos. Por enquanto, só Moraes foi atingido — nomes como Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que circulavam como possíveis alvos, acabaram ficando de fora dessa leva inicial.
Na prática, essa lei permite que o governo dos EUA congele bens, suspenda vistos e bloqueie o acesso da pessoa sancionada a serviços financeiros e comerciais americanos. Isso inclui desde contas em bancos até bandeiras de cartão de crédito — basicamente, a vida da pessoa vira um inferno se tiver qualquer relação com os Estados Unidos.
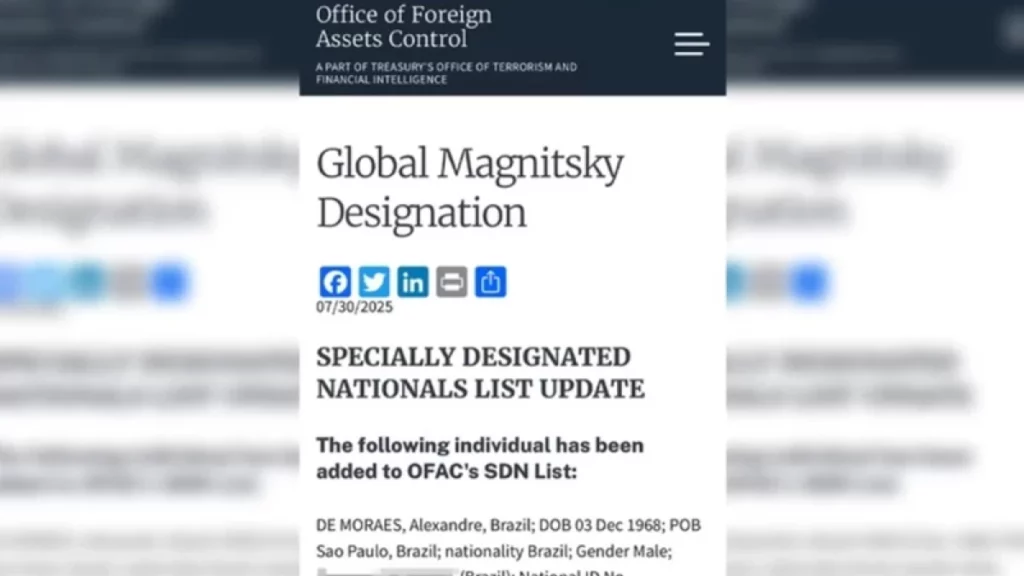
Mas de onde veio essa tal de Lei Magnitsky?
Para entender, a gente precisa voltar pra 2009. Na época, um advogado chamado Sergei Magnitsky, que trabalhava num fundo de investimentos chamado Hermitage Capital (ligado ao americano William Browder e ao brasileiro Edmond Safra), denunciou uma fraude bilionária feita por altos escalões do governo russo. Ele descobriu que oficiais corruptos tinham tomado o controle de empresas ligadas ao fundo e inventado débitos falsos pra justificar um reembolso de cerca de 230 milhões de dólares. Uma grana absurda, diga-se de passagem.
O que aconteceu depois foi trágico: em vez de investigarem a denúncia, os próprios envolvidos mandaram prender Magnitsky. Ele morreu pouco tempo depois numa cadeia em Moscou, e investigações independentes apontaram que ele foi preso sem motivo e sequer teve acesso à Justiça.
Esse caso gerou revolta em todo o mundo e, como resposta, os EUA aprovaram em 2012 uma lei com o nome dele, permitindo sanções contra responsáveis por sua morte. Só que em 2016 a coisa ganhou outra proporção — veio a Lei Magnitsky Global, que expandiu o escopo da lei original para atingir qualquer pessoa, de qualquer país, envolvida em corrupção ou em abusos de direitos humanos.
E como funciona isso na prática?
Para alguém ser incluído na lista, o presidente dos EUA precisa apresentar provas de que a pessoa cometeu algum dos crimes previstos: execuções extrajudiciais, tortura, censura, perseguição política, corrupção, desvio de dinheiro público, suborno… é um cardápio completo. Se for comprovado, a punição pode ser pesada. Bens congelados, contas bancárias bloqueadas, proibição de entrada nos EUA e cancelamento de vistos.
Inclusive, empresas e organizações também podem cair nessa rede — principalmente se tiverem ajudado de alguma forma nas práticas ilegais.
Esses alvos entram numa espécie de lista negra, chamada SDN List, gerenciada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que é vinculado ao Tesouro dos EUA. O presidente é quem bate o martelo final, mas precisa apresentar provas ao Congresso.

E tem como sair dessa?
Até tem, mas não é simples. A pessoa precisa provar que não teve envolvimento nos crimes, que já foi julgada ou que mudou completamente de conduta. Em situações bem específicas, o presidente pode até suspender as sanções, mas só se isso servir aos interesses da segurança nacional americana. E mesmo assim, ele tem que avisar o Congresso com pelo menos 15 dias de antecedência.
Agora, com Moraes na mira de Washington, o clima entre Brasil e EUA pode azedar — ou no mínimo, ficar mais tenso. A comunidade internacional já começa a se perguntar: será que vem mais nome por aí?
Veja Mais em Brasil Contra a Corrupção e no Site Notícias de Direita Urgente
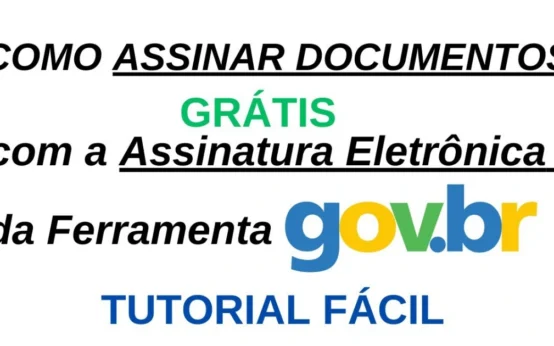

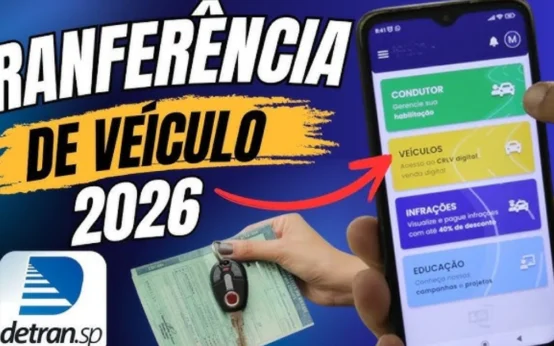
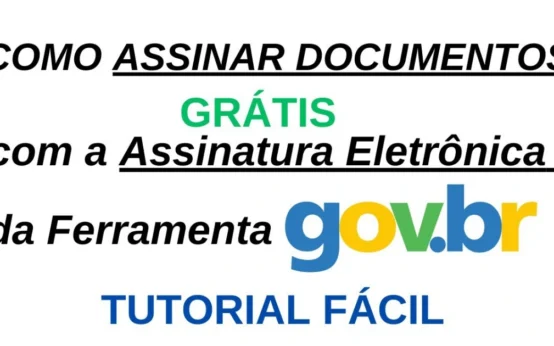
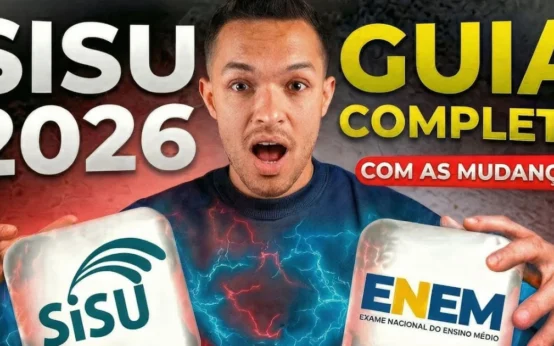
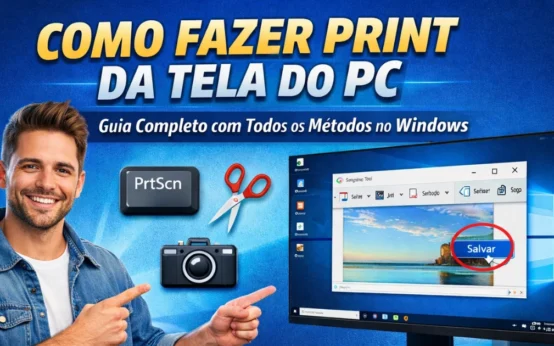
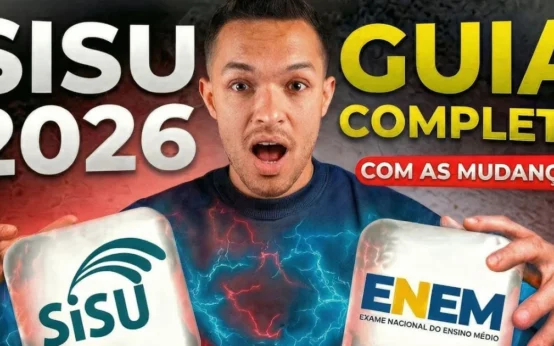




 PF atende Bolsonaro e desliga central de ar-condicionado durante a noite
PF atende Bolsonaro e desliga central de ar-condicionado durante a noite  Defesa de Bolsonaro cita queda como fator decisivo em novo pedido de prisão domiciliar ao STF
Defesa de Bolsonaro cita queda como fator decisivo em novo pedido de prisão domiciliar ao STF  Ameaça tarifária de Trump contra Irã pode reabrir disputa com a China
Ameaça tarifária de Trump contra Irã pode reabrir disputa com a China  Trump cancela reuniões com Irã até que “assassinato de manifestantes pare”
Trump cancela reuniões com Irã até que “assassinato de manifestantes pare”  Moraes manda Justiça de MG recalcular pena de homem que quebrou relógio de Dom João VI
Moraes manda Justiça de MG recalcular pena de homem que quebrou relógio de Dom João VI  Irã está pronto para reagir a ação militar dos EUA, diz ministro
Irã está pronto para reagir a ação militar dos EUA, diz ministro